(certa feita, visitei uma fábrica de folhas de ouro, na Alemanha. É uma indústria incrível. As folhas de ouro servem para fazer o folhado a ouro, um revestimento extremamente fino, que adere por eletroestaticidade. Tem uma superfície de poucos centímetros quadrados, e uma espessura tão fina quanto possível. A planta que visitei era uma das mais importantes do mundo. Lá havia uns 20 operadores, que batiam, com martelos de madeira, sobre uma pilha de algumas centenas de folhas que haviam sido obtidas por um processo de laminação. Entre as folhas, havia um papel encerado, o todo formando um sanduíche. E o operador passava o dia inteiro batendo com um martelo sobre este sanduíche, de uma forma cadenciada, que o fazia ir se espalhando e, como conseqüência, as folhas se tornavam mais largas e … mais finas. Me lembrei desta fábrica, ao escrever este texto, porque no final do dia, ela era cuidadosamente varrida, para que o pó de ouro fosse recuperado. Eis uma indústria em que, talvez, nunca o desperdício teve valor negativo!)
À medida que mais indústrias encontram uso para as sobras de aço, o valor destas começa a subir. E quem produz as sobras passa a não mais pagar que sejam retiradas, cobra por elas. A sucata tem, assim, um valor definido não pelo seu custo de produção, mas pelo valor que lhe dão os que a usam.
Quando os usuários da sucata aumentam sua produção, e exportam o seu produto, a quantidade de sobras no país diminui, e é preciso substituí-la por outras fontes metálicas, para evitar que o seu preço suba exageradamente.
As nossas fábricas se alimentavam quase que exclusivamente de sucata, e estávamos exportando muito. Era o fato novo que nos obrigou a buscar alternativas para a produção de matéria prima para nossas aciarias.
O ponto de partida é o minério de ferro, abundante no Brasil. Este minério na realidade é um óxido de ferro, combinação de Ferro com Oxigênio. Para ser utilizado na fabricação do aço, ele precisa voltar a se tornar um metal, ser desoxidado. Este processo se chama de redução, e normalmente necessita de uma reação com fontes de Carbono, grande quantidade de energia, para que a separação aconteça.
O processo clássico é o do alto-forno. No Brasil, desde o período imperial, os altos-fornos eram alimentados por carvão vegetal, obtido por desmatamento.
Na década de 70, além desta alternativa – que já estava se tornando insustentável, por exigir reflorestamentos cada vez maiores – havia o coque, carvão mineral, do qual uma pequena quantidade era extraída de minas em Santa Catarina e a parte mais importante era importada.
O custo desta matéria prima, assim, era muito alto, e só podia ser sustentado por produtos de maior valor por unidade de peso.
Os vergalhões e arames que produzíamos eram de baixo preço, e não comportavam as soluções clássicas. Com a escassez da sucata, estava formado o quadro (HA) que nos obrigava a buscar soluções inovadoras (RI).
Uma das alternativas era a Redução Direta, que produzia o metal a partir de gás natural e minério de ferro, em plantas que custavam bem menos do que um alto-forno a coque.
Mas nós também não tínhamos gás natural, e este não era, na época, transportável, economicamente, a longas distâncias.
Uma solução encontrada foi usar óleo combustível como fonte de carbono. Também era importado, mas podia ser transportado sem maiores dificuldades. Bastava construir uma planta de gaseificação do óleo, e comprar uma Redução Direta a gás natural. As contas fechavam, o óleo era barato, o minério estava ali, em Minas Gerais, em quantidade e qualidade mais do que suficientes.
Plantas de gaseificação e de redução a gás já existiam, em outros lugares do mundo.
Mas a nossa iria ser a primeira em que ambas funcionavam conectadas.
Desta inovação surgiram inúmeras conseqüências desagradáveis. A planta acabou sendo desmontada, antes de atingir funcionamento pleno. Embora as dificuldades técnicas estivessem sendo resolvidas, uma a uma, ocorreu um fato imprevisível, que a tornou absolutamente inviável: o primeiro choque do petróleo.
Durante muitos meses, entretanto, estávamos lidando com a inovação necessária, e ela nos trouxe uma série de aprendizados, por alguns dos quais tivemos que pagar muito caro…
A planta de gaseificação era petroquímica, com tecnologias às quais não estávamos habituados. Muito menos nossos principais contratados, os alemães da Purofer.
Em geral, eles tinham seguido carreira em siderúrgicas alemãs, a maior parte deles na manutenção e engenharia.
Em vista disto, a parte petroquímica fora subcontratada com outra empresa, alemã, especialista no assunto.
Logo que a planta começou a funcionar, vivenciamos o drama da absoluta necessidade da não interrupção. Num processo contínuo, com dezenas de bombas, turbinas, motores, vasos, trocadores de torres, qualquer paralisação significava riscos de superaquecimentos, entupimentos, explosões, perdas de materiais… e o retorno era extremamente penoso, levava quase 24 horas!
Nós não tínhamos o hábito de raciocinar em termos de interrupção zero. Interrupção para nós tinha conseqüências econômicas, proporcionais ao tempo de parada. Mas, agora, a questão era diferente: a necessidade de controle de processos para assegurar a continuidade representava um nível de exigência muito mais alto do que o que conhecíamos.
O mesmo, infelizmente, era válido para a maior parte dos alemães que vieram instalar a planta. Eles também não tinham a cultura do processo necessariamente contínuo…
Uma das causas de paradas era a velocidade não controlada de algumas bombas, que eram acionadas a turbinas a vapor.
Na planta alemã, não havia este problema: as bombas eram acionadas por motores elétricos, cuja velocidade pouco se altera. O que, lá, era possível: a energia elétrica, direta da rede pública, não falhava nunca.
Aqui, como a energia da Light vivia piscando, esta solução era impossível. Foi preciso colocar turbinas a vapor, no lugar dos motores; e o vapor, gerado por caldeira nossa, não falharia tanto. Mas as turbinas não mantinham a velocidade constante, e os alemães não conseguiam resolver o problema.
Fomos à sede da empresa alemã, o Bruno e eu, para tentar encontrar uma solução, discutindo o caso com outros especialistas. Visitamos algumas plantas, todas tinham motores elétricos.
Estávamos num impasse, até que o Bruno sugeriu:
– “amanhã pegamos um trem e vamos até Frankenthal, onde fica a KKK!”
A KKK era uma empresa alemã tradicional, fornecera todas as turbinas, íamos discutir o problema diretamente com quem realmente entendia daquele componente. Parecia-nos impossível que eles não soubessem fabricar uma turbina com melhor qualidade.
No dia seguinte, logo no início da conversa com o técnico da KKK, a causa do problema foi identificada.
Eles tinham, é claro, sofisticados tipos de regulagem, capazes de tudo o que precisávamos, com absoluta segurança. Mas o pedido do comprador tinha sido somente “1 turbina para tal velocidade e tal potência”, sem citar nenhuma necessidade de controle de velocidade mais sofisticado. Em vista disto, tinham cotado um “Fusca”, ganho a licitação, e fornecido o equipamento.
Do outro lado, o comprador, da empresa de engenharia, sempre especificara “1 motor elétrico, com tal potência e tal velocidade”, nunca tivera problemas com regulação de velocidade.
O conhecimento, como quase sempre ocorre, existia, estava lá, numa fábrica no interior da Alemanha. Mas foi preciso que avançássemos vários níveis, além do nosso contato normal, para que chegássemos a ele.
Do outro lado do oceano, a planta podia explodir. O conhecimento fora retido, no início da cadeia…
Sabe aquela de subdesenvolvido? O que mais aprendemos, na ocasião, era como os alemães, quando saíam da sua rotina, dos seus sistemas tradicionais e seguros, falhavam… e até bem mais do que nós, que estamos acostumados a andar em estradas ruins, aos solavancos!
O Bruno Hoppe foi o técnico mais brilhante com que convivi. Em qualquer ramo do conhecimento em que eu me evolvesse, com ele, invariavelmente, ele, sempre, sabia muito mais.
Memória privilegiada, raciocínio agudo, curioso, contestador… convivendo com ele, me dei conta de que, muitas vezes, o excesso de saber agride, deixa desconfortáveis outras pessoas, que também julgam importante deter o conhecimento.
Cedo ele decidiu seguir o caminho solo, se tornou consultor internacional, vendendo respostas a questões tecnológicas por site da internet, no qual as pessoas colocavam perguntas e declaravam o valor que teria a resposta, no seu negócio.
Ele nunca se dedicou à gestão; se o fizesse, seria igualmente brilhante. Ele ficou no que, hoje, considero a essência: o conhecimento.
No dia em que ele escrever um livro sobre soluções através do conhecimento, eu o recomendarei a todos os que eu vier a saber terem compraram este volume.
O dele será, mais uma vez, muito melhor…
Tirar os alemães de sua casamata de certezas, mostrou-nos, naquela ocasião, a sua fragilidade.
Anos depois, eu conheci, através do esporte, um construtor, no norte da Alemanha, brasileiro, natural de Joinville, que lá se radicara. Naquele ano tinha já construído 26 casas, na parte em que era especialista: a estrutura de madeira do telhado.
Ele fazia o projeto, no forro de sua casa, marcava o tamanho de todas as peças, todos os furos. Os seus montadores iam lá, montavam, dava tudo certo.
Ele trabalhava muito com espanhóis. Eu estranhei:
– “Tu dependes tanto da qualidade da mão de obra, como podes recorrer a pessoas com muito menos tradição (conhecimento acumulado!) em construção do que os alemães?”
– “Trabalhando aqui, o espanhol ganha 3 vezes mais do que em casa, e três vezes menos do que um alemão. E deixa te dizer uma coisa: o que a Alemanha tem de bom é o SISTEMA. Individualmente, o operário espanhol, motivado, com bom desenho e boas ferramentas, não fica nada a dever…”
O conhecimento que, neste caso, tinha valor decisivo, era o dele, do brasileiro de Joinville, que no forro de sua casa, sobre uma mesa grande e sem nenhum recurso extraordinário, desenhava, sem erros, todas as peças, e a posição de todos os furos…
No episódio Purofer, acabamos por descobrir que existia uma Universidade do Equador. Não do país, da linha…
Técnicos de nível mais baixo nos eram vendidos para posições para as quais não tinham conhecimento.
Saíam de lá programadores de fábrica, chegavam aqui como gerentes de produção.
Sistematicamente, falhavam. Eles tinham aceito a aventura pela promoção, traziam a farda, mas não tinham o conhecimento. O diploma da Universidade do Equador não correspondia a conhecimento…
No final, nós íamos lá, na terra deles, para entrevistá-los, antes de autorizar sua transferência…
Porque, simplesmente, era necessário!
Aprendemos, com o tempo, em acreditar neles… até o primeiro chute.
Lembro de um caso que me marcou muito. Um eletricista sênior deles sabia de tudo. Até o dia em que o questionei sobre os motores à prova de explosão, caríssimos, que tinha especificado. Este campo, por acaso, eu conhecia bem: eu tinha trabalhado 6 anos na construção de uma refinaria. Ele respondeu coisas que eu sabia erradas, com a mesma convicção com que sempre falava conosco.
Bastou uma escorregada, para revelar a profundidade do conteúdo do frasco…
O Eli Abreu era um engenheiro eletricista bem formado, membro da ABNT na sua especialidade, trabalhara na Petrobrás, e o contratamos para cuidar da parte elétrica da Purofer.
Descendente de árabes, o Eli era uma pessoa muito simples, cordial, até humilde.
Ele foi protagonista de um diálogo que ficou na nossa história.
Um alemão passava pela planta, colocou a mão num motor, achou que estava esquentando, e mandou desligar tudo. Parar a planta significava aquela operação cara e complexa a que já me referi.
O Eli estava por ali, colocou a mão no motor, e disse que não precisava parar.
O outro ficou possesso, sua autoridade estava sendo contestada.
– “Como que não pára? Eu sou responsável por isto! Eu entendo de motor! Como é que o senhor se atreve….”
O Eli não elevou a voz e disse, no seu jeito simples:
|
– “Para botar a mão no motor, e mandar parar, não precisa entender de motor. Para botar a mão no motor, e dizer que pode continuar, precisa entender de motor”. |
A planta não parou; e dali por diante, quando alguém queria testar a segurança dum colega, perguntava, com malícia,
-“Tudo bem. Mas, tu botas a mão no motor?”
Para botar a mão no motor, precisa ter conhecimento.
Noutro episódio, os nossos fornecedores diziam que era impossível o funcionamento dum grande motor, a rede era muito fraca. Havia que coordenar a discussão entre o especialista do motor, do transformador, e da rede.
O jeito foi ir à Alemanha, os diplomados pela U. do E. só enrolavam.
Levamos o Eli conosco. Ele nunca tinha estado na Europa, falava um inglês horroroso, e nada de alemão. Não tinha sequer levado roupa adequada. Lembro-me que o deixamos num Bahnhof – estação de trens — com a passagem na mão, e a lista de contatos. Quando nos afastamos, me ficou a sua imagem, tiritando de frio, num país estranho, sem conhecer a língua, com uma missão muito delicada.
O encontrei uma semana depois, no Brasil, com o problema resolvido.
O Eli conhecia a sua tecnologia, e sabia botar a mão no motor…
O projeto Purofer nos obrigou a um enorme esforço para conseguir dialogar com especialistas de muitas áreas, em temas complexos e controversos. É muito difícil separar o joio do trigo, o importante do não importante, quando não se domina a tecnologia!
Estudei cuidadosamente um primeiro setor da planta de gaseificação e fui, numa noite, testar meu conhecimento.
Sentei-me à frente do painel de comando e desafiei o Toledo, um daqueles operadores de painel que é um verdadeiro pianista: de repente, ele saltava da cadeira, mexia em 3 ou 4 botões simultaneamente, olhava de relance outros tantos medidores, corria até a porta, dava uma ordem, voltava ao painel….
– “Me pergunta qualquer coisa desta parte do painel”, pedi-lhe, indicando cerca de 1/5 daquilo que ele monitorava.
– “Parou a P101” propôs ele.
Comecei a pensar, rapidamente. A 101 parando, cai a pressão no Vaso V120, a temperatura no K 111 cai, o…
– “Já explodiu”, cortou o Toledo, com um sorriso.
Eu até podia saber, mas o meu conhecimento ainda era muito incipiente, não tinha velocidade de resposta…
O meu respeito pelo conhecimento daqueles operadores aumentou muito, naquela noite…
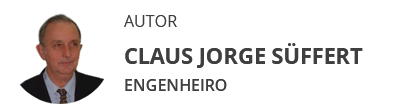 1659]]>
1659]]>

